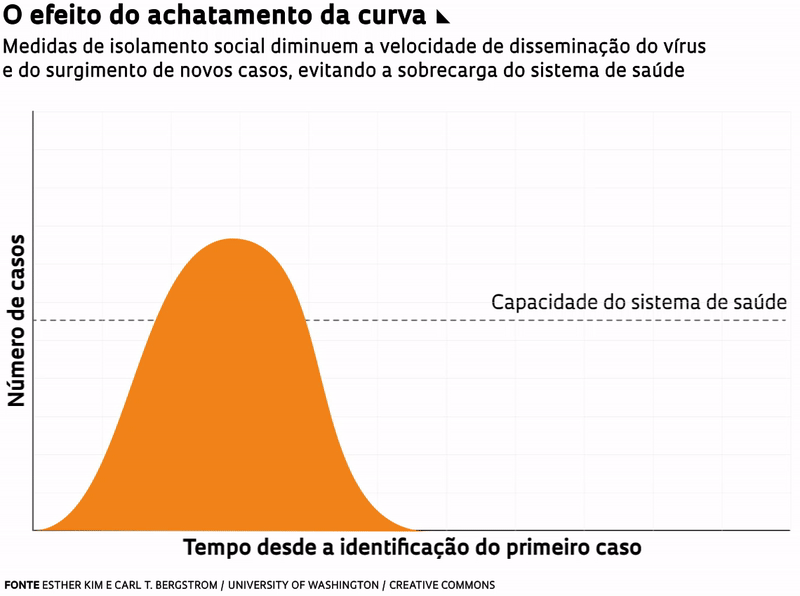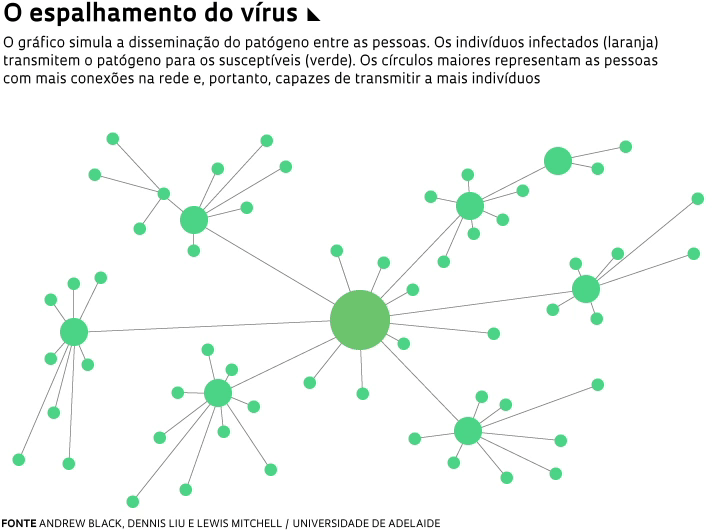Para Conter o Avanço Explosivo
Redução precoce do contato social favorece o controle mais rápido do espalhamento do novo coronavírus
Em apenas três meses, de dezembro de 2019 a março deste ano, a nova variedade de coronavírus surgida na China infectou 185 mil pessoas em 159 países, disseminando uma doença respiratória semelhante à gripe, porém mais grave e letal. Nesse curto intervalo de tempo, houve quase 7,5 mil mortes – entre elas, quatro no Brasil, confirmadas até 18 de março. Uma análise inicial dos dados brasileiros realizada por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), da Universidade de São Paulo (USP) e pela Universidade Federal do ABC (UFABC) indica que o número de casos dobra no país a cada 2,5 dias. O avanço da epidemia do coronavírus, de proporções planetárias, possivelmente a de mais rápida disseminação nos últimos 100 anos, veio acompanhado de uma enxurrada de informações em tempo real, algumas contendo conceitos pouco familiares às pessoas. Um deles ganhou o noticiário e até as conversas de cafezinho, ao mesmo tempo que surgiam medidas governamentais mais severas para reduzir o contato social: é o conceito de curva epidêmica, que veio acompanhado da ideia de que é preciso achatá-la para evitar a implosão dos sistemas de saúde.
Mas o que é a tal curva e o que significa achatá-la? A curva epidêmica é representada por um gráfico simples, porém útil para as autoridades de saúde. Velha conhecida dos epidemiologistas, pesquisadores que investigam como as doenças atingem diferentes populações, ela mostra o número de casos no tempo e permite conhecer a evolução inicial da doença, algo fundamental para o planejamento de ações de saúde pública. Muitas das novas infecções que se abatem sobre a humanidade se comportam de modo semelhante e produzem uma curva epidêmica com a mesma aparência, quase sempre um gráfico em forma de sino. O gráfico é mais estreito no eixo horizontal e alongado no vertical quando a infecção se dissemina rapidamente. E mais bojudo na horizontal e achatado na vertical em epidemias de espalhamento lento. Apresentada nas páginas da revista britânica The Economist no início de março, a figura correu o mundo por representar de modo simples o desafio do sistema de saúde dos vários países diante da propagação do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, causador da Covid-19.
Assim como as curvas epidêmicas de outras infecções, a do novo coronavírus vem sendo fatiada em três faixas verticais para avaliar a evolução do problema: uma à esquerda, outra central e a terceira, à direita. A faixa mais à esquerda é a que chama mais a atenção de autoridades de saúde atualmente. No caso de infecções novas, contra as quais as pessoas ainda não têm imunidade e que podem contagiar toda a população, essa parte da curva descreve a fase de crescimento exponencial ou acelerado da epidemia. Nela, o número de casos cresce tão rapidamente que o total dobra em poucos dias. Quanto maior esse ritmo de crescimento, mais íngreme se torna a curva.
Toda epidemia – seja local, seja disseminada por uma vasta região do planeta, a chamada pandemia — tem um início, um pico e uma fase final, na qual pode seguir dois caminhos: extinguir-se completamente ou manter um número mais ou menos estável de casos (viram endemias). Epidemiologistas e autoridades da saúde mantêm o foco nessa fase de crescimento acelerado porque ela dita o ritmo de avanço da enfermidade e permite projetar quando a epidemia atingirá seu pico e como ele será. Se o crescimento inicial é íngreme demais, o número de casos pode rapidamente ultrapassar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, levando-o ao colapso, como aconteceu em fevereiro e março no norte da Itália.
“Do ponto de vista da saúde pública, essa fase inicial é o momento de agir, e agir o quanto antes, para tentar desacelerar o ritmo de crescimento da epidemia e reduzir a altura do pico para o nível mais baixo possível, tornando a curva achatada”, afirma o físico Roberto Kraenkel, do Instituto de Física Teórica da Unesp, que trabalha com modelos matemáticos ligados à ecologia e à epidemiologia. Com colaboradores da USP e da UFABC, Kraenkel está usando os dados oficiais para acompanhar a evolução da epidemia do novo coronavírus no Brasil.
A partir dos dados divulgados até 17 de março, quando havia 291 pessoas infectadas no país, o grupo calculou um dos parâmetros que influencia a fase acelerada da epidemia: o tempo de duplicação do total de casos da doença. Segundo os cálculos do grupo de Kraenkel, atualmente o número de casos dobra, em média, a cada 2,5 dias. “Como o tempo desde o início da epidemia no Brasil ainda é curto, temos poucos dados e a margem de erro é grande, o que significa que os casos podem dobrar um pouco mais rapidamente, a cada 2,2 dias, ou um pouco mais lentamente, a cada 3,1 dias”, relata o pesquisador. Esse número, no entanto, é suficiente para estimar com um bom grau de precisão como estará a situação nos próximos dias. O grupo projeta que por volta de 1,7 mil casos já tenham sido identificados até a próxima segunda-feira, dia 23. Esse número pode ser um pouco menor, na faixa de 1,3 mil, se o tempo de duplicação for mais longo, ou mais, da ordem de 2,3 mil, se a epidemia se espalhar mais rapidamente, como indica o intervalo no gráfico no site Observatório Covid-19BR, lançado em 18 de março.
A redução da velocidade inicial da epidemia com o consequente achatamento da curva é fundamental para não sobrecarregar os hospitais e suas unidades de terapia intensiva (UTIs). Estima-se que apenas 20% das pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 apresentem algum sintoma. Delas, 14% precisam de internação hospitalar e 5% vão parar em UTIs. Como o número de leitos é limitado, o aumento rápido de infecções e de agravamento pode ultrapassar a capacidade de internações do país – no Brasil existem cerca de 450 mil leitos em hospitais públicos e privados, dos quais 41 mil são de UTI, segundo levantamento feito em 2016 pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Reduzindo o espalhamento das infecções, mesmo que o total de pessoas que contrairá o vírus permaneça o mesmo, o pico da epidemia se torna mais distribuído no tempo, o que significa que menos pessoas vão parar no hospital ao mesmo tempo. Essa medida, segundo afirmou Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, à imprensa em 10 de março, levaria a ter menos pessoas infectadas e, em última instância, a ter menos mortes.
Uma forma eficaz de achatar o pico das epidemias é vacinar a população. Como ainda não existe vacina desenvolvida e testada contra o novo coronavírus, as medidas mais eficazes têm sido o distanciamento e o isolamento social. Esse procedimento ajuda a diminuir o número de pessoas para as quais um indivíduo infectado pode transmitir o vírus. “Ao fazer isso, provavelmente o mesmo número de pessoas terá sido infectado ao final da epidemia, que deverá durar mais tempo, mas o número de casos graves ocorrerá de modo mais esparso. Isso significa que, caso se plote um gráfico do número de casos ao longo do tempo, a curva de subida e descida é mais extensa, mas seu pico é menor. Ao ‘achatar a curva’ dessa maneira, as UTIs terão menos probabilidade de ficar sobrecarregadas”, escreveu o trio de matemáticos Andrew Black, Dennis Liu e Lewis Mitchell, da Universidade de Adelaide, na Austrália, em um artigo publicado em 16 de março na revista eletrônica The Conversation.
A ideia de que o achatamento da curva poderia funcionar ganhou crédito depois que o governo da China cancelou as festividades de Ano-Novo em janeiro, restringiu as viagens e orientou que milhões de pessoas em diferentes cidades permanecessem em casa. Desse modo, o país conseguiu em cerca de um mês reduzir o número diário de novos casos dos quase 3,9 mil do auge, para pouco mais de uma dezena.
Aparentemente é possível aproveitar o comportamento acelerado da fase inicial da epidemia para agilizar seu controle. Para isso, no entanto, é preciso agir o quanto antes nessa fase inicial, explicou a epidemiologista britânica Britta Jewell, pesquisadora do Imperial College London e especialista em modelagem de doenças infecciosas, em entrevista publicada em 11 de março no jornal The New York Times. Jewell relata que os modelos matemáticos mostrando o efeito do distanciamento social no surgimento de novos casos chamaram-lhe a atenção. “Só é preciso uma diferença de um dia na adoção da medida para haver uma redução de 40% nos casos. Isso é um efeito enorme. Realmente transmite a urgência da situação”, disse.
Usando dados da epidemia nos Estados Unidos na semana passada, com o número de casos aumentando em 30% ao dia, Jewell fez uma projeção do que ocorreria se ações como cancelamento de eventos, restrições de viagens fossem tomadas agora ou uma semana mais tarde. Nessa situação hipotética, impedir uma única infecção hoje aumentaria em quatro vezes o número de casos que se evitaria um mês mais tarde. “Se agirmos hoje, teremos evitado quatro vezes mais infecções no próximo mês: aproximadamente 2.400 infecções evitadas, diante de apenas 600 se esperarmos uma semana”, disse a pesquisadora.
No Brasil, os dados ainda são mais iniciais e não se conhecem outras características da epidemia que permitam traçar sua evolução, como o número de pessoas para as quais um indivíduo infectado pode transmitir o vírus. Kraenkel e seus colaboradores pretendem acompanhar a evolução do quadro nas próximas semanas para avaliar se as medidas adotadas (cancelamento de aulas e orientação para as pessoas ficarem em casa e evitarem contato com outros indivíduos) estão sendo suficientes para reduzir a velocidade de espalhamento do vírus ou se serão necessárias ações mais drásticas, como o fechamento de locais públicos e restrição da mobilidade das pessoas, já adotadas na Itália, França e Espanha. “Saberemos em breve”, diz Kraenkel.